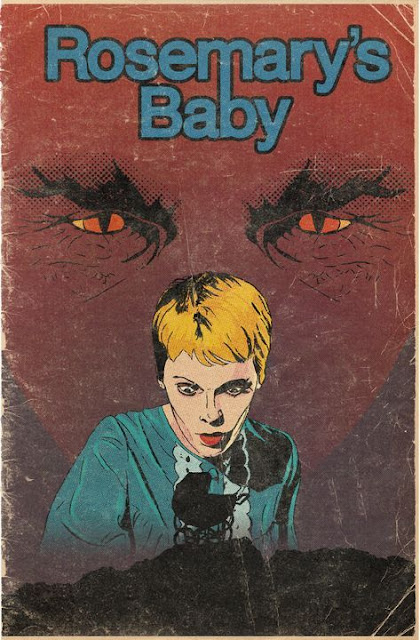Quem nunca foi tomado por um sentimento de culpa, por algo que fez ou deixou de fazer? Todo ser humano já passou por isso em algum momento, mas para Brioni Tallis, as consequências dos seus atos e seus desdobramentos influenciaram, catastroficamente, a vida e o destino das pessoas que ela amava: sua irmã Cecilia Tallis e Robbie Turner, filho de uma das empregadas da família. Trocando em miúdos, essa é a premissa central de Desejo e Reparação (Atonement, 2007), adaptação do romance do famoso escritor inglês Ian McEwan.
Joe Wright, diretor do filme, monta uma adaptação que beira a perfeição, seja pelos cortes e takes elegantes, seja por extrair do elenco o que eles podem oferecer de melhor. Os prêmios que o filme arrebatou pelos festivais não me deixam mentir (Globo de Ouro, Bafta, Oscar....). Méritos de um cineasta que tem em mãos uma obra literária tão complexa quanto delicada e consegue extrair o seu supra sumo sem perder a originalidade.
Como esquecer a impregnante trilha sonora original, que vez ou outra se confundia com o soar da máquina de escrever da geniosa Brioni?! O teclar dava o ritmo da história. Orgânico e preciso. Cinema!
A fotografia dualista, brilhantemente escolhida, diz, por si só, onde estamos e para onde vamos, basta ver e sentir. A luminosidade nas épocas áureas; os prados, montanhas, arvoredos, o verão enche os nossos olhos. Por outro lado, quando somos arremessados à guerra, temos uma foto turva, sem aquele brilho, o destino já havia alterado e ninguém poderia reverter.
Não menos espetacular são os figurinos, os cenários e as locações escolhidas. As vestimentas impecáveis situam o espectador em um ambiente de época, ao tempo em que nos deixam a par das intenções dos personagens, como na cena da biblioteca em que Cecila Tallis (Keira Knightley) usa um luxuoso vestido verde, simbolizando a cor da esperança mais do que nunca
A montagem, por sua vez, é perspicaz ao ponto de não deixar a nossa atenção se esvair, nem por um minuto. As principais cenas são mostradas sob duas perspectivas: a de Brioni (imaginativa e cheia de dúvidas); e a visão real, dos fatos. E por falar em Brioni, a história centra-se, basicamente, na trajetória da menina-moça até a terceira idade. A interpretação passa pela trinca das talentosas atrizes Saorsi Ronan, Romola Garai e Vanessa Redgrave. Cada uma delas empresta à personagem uma emoção correspondente aos momentos decisivos e tocantes, os quais não são poucos.
E quando somos apresentados, abruptamente, a versão de Brioni de 1935, vimos uma menina um tanto arrogante e mimada. Até na maneira de andar temos uma criança em transição para adolescência, diferente das demais, rápida e objetiva, sem perder tempo. Nas tardes livres e intermináveis de uma Inglaterra em tempos de pré-guerra, a cabeça de uma garota ociosa era uma fábrica de sonhos, histórias e imaginações, porque não dizer: “uma oficina do diabo”. A menina passava o tempo livre escrevendo livros e peças, e isso ela fazia bem. Era um talento nato. A paixão secreta e platônica por Robbie (James Macvoy) é infrutífera e só cresce na pequena escritora, até porque o rapaz é mais velho e só tem olhos para Cecilia, irmã de Brioni, por quem está perdidamente apaixonado.
Sem revelar mais detalhes da fantástica história, apenas posso dizer que a emoção, durante a sessão, me tomou de assalto em vários momentos, quando fui percebendo a imersão dada a cada personagem, a densa dramaticidade que crescia exponencialmente, que o sentimento de remorso daquela garota se tornara uma ferida maior do que qualquer bomba poderia causar.
Confesso que a lágrima escorreu no canto do olho em uma das cenas mais
primorosas do longa: Robbie acompanha os dois amigos na praia
de Dunkirk constatando o caos e a devastação que a guerra deixara.
Um plano-sequência persegue os amigos que caminham pela praia, atordoados,
contemplativos, sobreviventes.
*Avaliação: 5,0 Pipocas + 5,0 Rapaduras = 10.